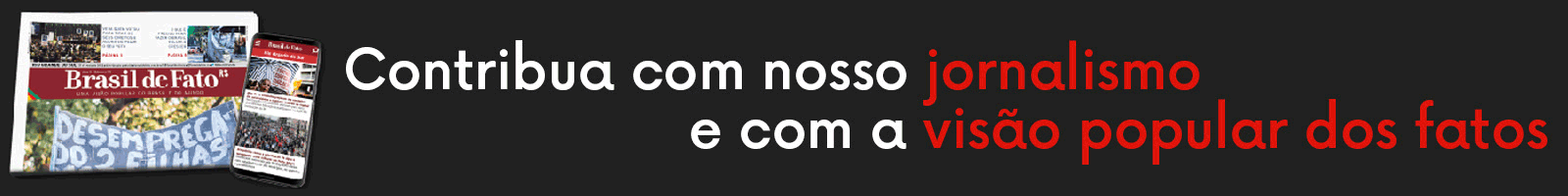O ano de 2023 foi marcado por extremos climáticos, que resultaram em desastres. Em escala global, dia após dia, as manchetes destacavam novos recordes, indicando o acelerado colapso climático e ambiental. No Brasil, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), 2023 foi o ano com o maior número de desastres registrados no país, totalizando 1.161 eventos, sendo 716 associados a fenômenos hidrológicos e 445 de origem geológica.
Ao que tudo indica, o ano de 2024 não está sendo diferente. Segundo dados do Observatório de Clima e Saúde do do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), de janeiro de a novembro de 2024 foram registrados 896 eventos extremos na natureza, sendo 416 meteorológicos, 386 climáticos, 76 hidrológicos e oito geológicos. Ainda segundo o Observatório, a região Nordeste foi a mais atingida, com 40,4% dos episódios extremos registrados, seguida das regiões Sudeste (27%), Sul (12,5%) e Centro-Oeste e Norte, ambas com 10,2% dos eventos extremos na natureza.
No país não faltam exemplos emblemáticos. O desastre climático que atingiu o estado do Rio Grande do Sul entre abril e maio, com o alto volume e intensidade de chuvas, foi potencializado por uma má gestão política do território, ocasionando uma das maiores tragédias do Brasil em 2024. As enchentes atingiram principalmente as regiões de vales dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos, Gravataí, Guaíba e da Lagoa dos Patos, abrangendo municípios como Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre. Diversas famílias perderam suas casas, móveis, eletrodomésticos, meios de transporte e, também, tiveram sua saúde física, emocional e mental afetadas. Em vários casos, até mesmo suas vidas foram levadas pela enchente.
Nos territórios do campo, observamos impactos e perdas terríveis, sobretudo nas em áreas de comunidades de agricultores familiares camponeses. As enchentes atingiram não somente as benfeitorias e maquinários das propriedades, mas diversas culturas agrícolas, prejudicando não apenas a segurança alimentar das famílias diretamente atingidas, mas de toda a população que acessa seus alimentos a partir destes circuitos produtivos. Um dos destaques é o impacto na produção de arroz agroecológico nos territórios do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com alguns dos integrantes do movimento afirmando que perdeu 13 mil sacas de arroz e R$ 1,5 milhões em colheitas e infraestrutura com a enchente.
Em nosso entendimento, não há como dissociar tamanho desastre socioambiental com o contexto das mudanças climáticas, tendo em vista que um dos agravantes da situação foi o bloqueio atmosférico na região central do Brasil, criando uma zona de alta pressão que abrangeu estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nesse contexto, por um lado, enquanto observamos o aumento da intensidade e o volume das chuvas no Rio Grande do Sul, por outro, na região central, o avanço das ondas de calor e dos períodos de estiagem assolaram as comunidades. Essa proximidade de extremos é uma característica do avanço das mudanças climáticas, potencializando fenômenos como El Niño e intensificando seus impactos.
Na região central do Brasil, tivemos a oportunidade de acompanhar os efeitos do aumento da temperatura e do período de estiagem no Pontal do Paranapanema, oeste do estado de São Paulo, observando seus impactos na produção de alimentos nos territórios de camponeses assentados, organizados pelo MST. Os impactos atingiram sua segurança alimentar, geração de renda, condições de trabalho, qualidade de vida e a saúde emocional e mental das famílias. Além disso, com a perda dos alimentos nos assentamentos, notou-se como o abastecimento das cidades foi prejudicado, atingindo os grupos mais vulneráveis do contexto urbano e evidenciando a relação indissociável entre campo e cidade.
Na região Norte do Brasil constatou-se uma das maiores secas da história. No estado do Amazonas, todos os 62 municípios decretaram emergência pública devido ao prolongado período de estiagem, isolando diversas cidades pelas baixas dos rios, prejudicando comunidades tradicionais e populações do campo e da cidade. Segundo a Defesa Civil do estado, entre agosto e setembro de 2024, o Rio Negro em Manaus diminiu mais de 10 metros. Ademais, o período de seca favoreceu o aumento das queimadas na região, liberando ainda mais Gases de Efeito Estufa (GEEs) para a atmosfera.
Segundo dados do sistema Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), tivemos entre novembro de 2023 até novembro de 2024, mais de 151 mil focos de incêndio na região amazônica e a área de desmatamento no bioma corresponde a 4,6 milhões de hectares, maior do que o estado da Dinamarca. O fogo é o último estágio do desmatamento, favorecendo o processo de grilagem e a abertura de novas áreas de pastagens ao agronegócio, processo denominado como mudança de uso da terra (MUT), um dos principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa no Brasil segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).
O desmatamento, a queima da floresta e a poluição resultante não apenas atingiu a região Norte, mas todo o Brasil, devido à dinâmica atmosférica dos ventos que, ao invés de trazerem umidade e chuvas do Norte-Sul, trouxeram, na verdade, fumaça, cinzas e fuligem, impactando a qualidade do ar e, também, modificando a coloração das chuvas, no fenômeno que ficou conhecido como “chuva preta”, um novo marco da crise climática no Brasil em 2024.
Diante deste contexto complexo e acelerado, é urgente debater os desafios para garantir a justiça climática. A justiça climática reconhece que os impactos das mudanças climáticas atingem diferentes grupos sociais de maneiras e intensidades desiguais, além de considerar a responsabilidade histórica, as desigualdades nas emissões, a equidade e a transição justa. A justiça climática é um direito humano que deve ser garantido pelo Estado e é uma pauta reivindicada por movimentos sociais em múltiplas escalas, como a Via Campesina e o próprio MST. Os casos supracitados evidenciam a velocidade e a magnitude dos impactos decorrentes da mudança climática, que, embora diversos, promovem um mesmo resultado: violam direitos, destroem territórios e ceifam vidas.
O Brasil possui desafios ainda maiores, uma vez que o país de dimensões continentais tem na base de sua formação socioespacial desigualdades históricas, alicerçadas na tríade exploração do trabalho-latifúndio-monocultura. A concentração fundiária — com um índice de Gini de 0,821 em 2019 de acordo com dados do Relatório DataLuta 2020; a altíssima concentração de renda, onde a renda dos brasileiros mais ricos cresceu três vezes mais rápido que a média nacional e dobrou em apenas meia década; e a elevada expansão do agronegócio, que desmata de forma vertiginosa e incorpora em seu portfólio de investimentos territórios naturais e tradicionais, fez com que, entre os anos de 1985 e 2022, a área ocupada por atividades do agronegócio crescesse 50%, são processos que contribuem para acelerar as mudanças climáticas ao mesmo tempo que dão classe, gênero e raça aos impactos decorrentes destas mudanças. Não é por acaso que as mudanças climáticas atingem mais as mulheres, a população preta e parda, os pobres, as pessoas que vivem em periferias e as comunidades rurais.
O Estado brasileiro reconhece a atrocidade das mudanças climáticas. O país é signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, acrônimo em inglês) desde 1994. Durante a 21ª Conferência das Partes (COP21) o Brasil também assinou o Acordo Climático de Paris, com metas centradas na redução da emissão de GEEs. O país já está na sua quinta versão da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, acrônimo em inglês), sendo estas apresentadas em 2016, 2020, 2022, 2023 e 2024. A mais recente NDC, apresentada na recém finalizada COP29 (Baku, Azerbaijão), possui 26 matérias prioritárias organizadas nos eixos: ordenamento territorial e fundiário; transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática.
Embora a nova atualização apresente avanços em relação à justiça climática, a mesma ainda é fundamentada em soluções baseadas na tecnologia, na regularização fundiária e na transição energética, deixando de lado as reais causas da acelerada mudança climática. A título de exemplo, no eixo “desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática”, que tem o maior número de ações, apenas uma reconhece a justiça climática a partir da consideração de comunidades e regiões mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, as estratégias previstas ignoram que no Brasil, na contramão da tendência mundial, historicamente, as principais atividades emissoras de GEEs (GtCO2e) são a mudança do uso da terra e da floresta (majoritariamente desmatamento e queimadas) e a agropecuária (especialmente o agronegócio). Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg) do Observatório do Clima, em 2023, a mudança do uso da terra e da floresta foi responsável por 46,2% das emissões de GEEs (GtCO2e) registrados no país, enquanto a agropecuária emitiu o correspondente a 27,5%.
A chamada transição energética, que nada mais é do que uma adição de fontes à matriz energética brasileira, é uma das principais agendas do Brasil quando o assunto é adaptação e mitigação à mudança climática. Contraditoriamente, a geração da dita energia limpa, tem resultados em diversos impactos e conflitos nos territórios onde a instalação de usinas de energia eólica e solar são territorializados. Com mais frequência as consequências negativas destes empreendimentos energéticos têm sido denunciadas por comunidades e movimentos, como pelo Movimento dos Atingidos pelas Renováveis (MAR). Pelos marcos regulatórios vigentes, no país há somente projetos eólicos em terra e, em desacordo com o posicionamento das populações já e potencialmente atingidas, uma das ações previstas na nova NDC é a aprovação de marco legal e regulamentação da produção de energia eólica offshore.
Neste cenário de contradições entre a realidade e as propostas de adaptação e mitigação, o Brasil, que sediará a 30ª Conferência das Partes (COP30), enfrenta desafios não apenas relacionados às lacunas deixadas pela COP29, conhecida como a “COP que não entregou”, especialmente no que tange ao financiamento climático. O principal desafio que o Brasil tem pela frente é a promoção de uma justiça climática que leve em conta a realidade do país, sua diversidade e sua formação socioespacial, além de fomentar a escuta ativa e a participação dos povos dos campos, das cidades, das águas e das florestas, que são as populações mais atingidas pelas mudanças climáticas. A continuação do atual modelo de adaptação e mitigação pode significar ainda maiores frustrações na COP da Amazônia.
* Wuelliton é licenciado e bacharelado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Presidente Prudente. Atualmente é mestrando em Geografia e desenvolve pesquisa sobre tecnologias para o enfrentamento às mudanças climáticas em territórios camponeses no Pontal do Paranapanema, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
** Lorena é licenciada, bacharel e doutora em Geografia pela Unesp, campus de Presidente Prudente. Atualmente realiza pós-doutorado no projeto Transições Agroecológicas para Adaptação e Mitigação Climática (Atcam), financiado pela Fapesp.
* Este é um artigo de opinião e não necessariamente expressa a linha editorial do Brasil de Fato.
Fonte: BdF Rio Grande do Sul
Edição: Vivian Virissimo