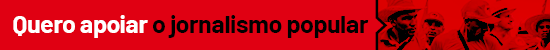Pobres de grandes cidades realizam suas práticas de “sevirologia” e “viração” na busca da vida digna
“No Brasil, há leis que pegam e leis que não pegam!”
“Os ricos e poderosos acham que estão acima das leis!”
“Aos inimigos, as leis!”
É muito comum escutarmos essas frases em falas sobre as relações entre a sociedade brasileira e as leis. Tais relações afetam várias esferas da vida coletiva e institucional do país.
A primeira frase é usada para mostrar que as pessoas de todas as classes sociais respeitam algumas leis, mas, por diversos motivos, desrespeitam outras, em geral para garantir benefícios, ganhos e vantagens particulares.
A segunda frase é usada para criticar os privilégios e as impunidades de membros da classe dominante que, ao cometerem crimes e ilegalidades, saem ilesos com a certeza de que não serão responsabilizados por seus atos criminosos e ilegais.
A terceira frase é usada para evidenciar os usos parciais, ideológicos e injustos das leis operacionalizadas principalmente por pessoas com poder de influência sobre o sistema jurídico que querem penalizar os inimigos em benefício próprio.
Ao refletir sobre essas frases, percebe-se que seus sentidos e significados não são nada banais, pois mostram os atravessamentos das fronteiras entre o legal e o ilegal tanto para garantir condições de sobrevivência quanto para obter vantagens e favorecer interesses particulares.
Enquanto o primeiro caso envolve a classe trabalhadora, o segundo envolve a classe dominante que, por ter maior poder político e econômico, conseguem fazer aquilo que Michel Foucault chamou de “gestão diferencial dos ilegalismos”. Essa gestão serve basicamente para “riscar limites de tolerância, dar terreno para alguns, fazer pressão sobre outros, excluir uma parte, tornar útil outra, neutralizar estes, tirar proveito daqueles.”
Recentemente, surgiu um modo de usar a palavra “ilegalismo” cujo sentido e significado também manipula as fronteiras entre o legal e o ilegal. Nesse uso, a palavra “ilegalismo” serve para criminalizar grupos, práticas, territórios e modos específicos de vida associados predominantemente às classes populares de trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda.
Essa palavra é usada em estudos e discursos que incorporam o ponto de vista da autoridade jurídica-institucional para quem o “ilegalismo” se refere aos vários tipos de crimes cometidos, por exemplo, pelo Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, Terceiro Comando, Primeiro Comando da Capital, bem como pelas milícias formadas por policiais, bombeiros, guardas civis, agentes penitenciários, vigilantes, dentre outros.
Esse entendimento do “ilegalismo” associado ao crime organizado é sem dúvida importante, mas é preciso ser ampliado e abordado a partir de diferentes pontos de vista, bem como através de perspectivas distintas.
Assim, é importante considerar o “ilegalismo” também a partir dos pontos de vista e das perspectivas das pessoas que não fazem parte, necessariamente, do crime organizado, mas cuja vida transcorre na fronteira entre o legal e o ilegal que atravessa praticamente todas as esferas da vida urbana de uma cidade como São Paulo. Em geral, essas pessoas são trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda que vivem em lugares periféricos onde exercem aquilo que o mestre José Soró chamou de “sevirologia”, isto é, a “arte de se virar com o que se tem”. E a arte de se virar é a “viração”.
Tanto a “sevirologia” quanto a “viração” acontecem como agenciamentos práticos feitos pelas pessoas para lidar com as urgências e as emergências da vida cotidiana no meio do embaralhamento e da tensão entre o legal e o ilegal, o lícito e o ilícito, o formal e o informal, para usar as palavras da sociologia Vera da Silva Telles.
Como professora da Universidade de São Paulo, essa socióloga usa as palavras de outro pesquisador (Alain Tarrius) para aprofundar seu pensamento trazendo as ideias sobre o “saber circulatório”, a “arte do contornamento” e o “sobreviver na adversidade” que servem para “inventar possibilidades de vida e de formas de vida”.
Podemos colocar essas palavras e saberes acadêmicos dos professores universitários Vera da Silva Telles e Alain Tarrius em vizinhança com a palavra e o saber popular contido na ideia de “sevirologia” pensada e praticada pelo mestre José Soró. Assim, podemos considerar a “sevirologia” também como a arte de circular, contornar e sobreviver nas adversidades dos campos de forças cruzadas da cidade e de suas periferias.
Como a “sevirologia” acontece em meio ao “ilegalismo”? Aqui, cabe trazer outro elemento para a vizinhança entre palavras e saberes acadêmicos e populares: o “proceder”.
Em primeiro lugar, podemos dizer que o “proceder” funciona como tipos de regras que regulam uma boa parte da vida sevirológica. Para Vera da Silva Telles, “as regras do ‘proceder’ não brotam do ‘mundo do crime’, como se este fosse um universo fechado, mundos paralelos, subterrâneos, à parte.” Ela diz que o “proceder” é uma “espécie de razão prática nos modos de lidar com os problemas que se constelam nos limiares da vida e da morte”.
Para essa socióloga, “as regras do proceder parecem cunhadas pela experiência carcerária, porém vazam pelos poros dos muros da prisão, transbordam para fora, circulam e são ativadas nos meandros do universo popular.”
Por que é importante pensar e escrever sobre essas palavras e essas coisas? Por que é importante ampliar o entendimento sobre o “ilegalismo” com a ajuda da “sevirologia”, da “viração” e do “proceder”? Porque assim se rompe com a noção de “ilegalismo” restrita ao crime organizado para abarcar as vidas das pessoas que fazem a “viração” circulando, contornando e sobrevivendo com “proceder” nos “meandros do universo popular” que se constela entre o legal e o ilegal, o lícito e o ilícito, o formal e o informal e, muitas vezes, entre a vida e a morte.
Como essas vidas acontecem nas periferias de uma cidade como São Paulo? Acontecem no entrelaçamento entre aquilo que o geógrafo Milton Santos chamou de “circuito superior e inferior da economia urbana”. Para esse autor, “pode-se apresentar o circuito superior como constituído pelos bancos, comércio e indústria de exportação, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas e transportadores. O circuito inferior é constituído essencialmente por formas de fabricação não-‘capital intensivo’, pelos serviços não-modernos fornecidos ‘a varejo’ e pelo comércio não-moderno e de pequena dimensão".
Assim, pode-se identificar a presença do “ilegalismo” no circuito inferior da economia urbana mobilizado pelos pobres e periféricos na cidade em seu movimento cotidiano de “sevirologia” e “viração” para a sobrevivência.
Exemplos disso se espalharam e continuam se espalhando nas histórias e geografias da cidade de São Paulo e de outras cidades do país.
Segundo a historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, na cidade de São Paulo do século XVIII e XIX, o pequeno comércio clandestino e ambulante dos escravos urbanos, em especial das escravas forras ou não, funcionava em conexão com os escravos fugidos e quilombolas existentes no vale do Anhangabaú, no Bexiga, em Pinheiros, em Santo Amaro e nos matagais dos arredores.
No começo da República Brasileira, no final do século XIX e início do XX, o memorialista Jorge Americano se lembra dos vendedores ambulantes que circulavam pelas ruas da cidade oferecendo leite de vaca e de cabra, verduras, pães, gelos, ovos, frangos, galinhas, frutas, peixes, amolação de facas e tesouras, consertos de panelas, potes e garrafas de vidro, tingimentos e lavagens de roupas e tecidos, lenhas e várias outras coisas.
Hoje, temos os comerciantes locais de bairros periféricos, as vendedoras de bolos e cafés instaladas nas calçadas, os camelôs que vendem uma diversidade infinita de produtos, os flanelinhas ativos nos faróis, os vendedores ambulantes nos trens, ônibus e metrôs, os donos e empregados de biqueiras, dentre inúmeros outros membros da classe trabalhadora que atuam em várias outras atividades do circuito inferior da economia urbana.
Para Milton Santos, os pobres das grandes cidades como São Paulo são “os que não têm um amanhã programado, são, afinal, os que têm direito à esperança como direito e ao sonho como dever. O que eles aspiram sobretudo é alcançar, pelo menos, aqueles bens e serviços que tornam a vida mais digna. E é diante da consciência das impossibilidades de atingir mesmo aquele mínimo essencial que os pobres descobrem o seu verdadeiro lugar, na cidade e no mundo, isto é, sua posição social”.
É nesse lugar que os pobres das grandes cidades realizam suas práticas de “sevirologia” e “viração” na busca incessante pela vida digna.
Por isso, para alcançar uma vida verdadeiramente digna são necessárias políticas públicas que potencializam as ações e práticas que cotidianamente já se constituem como “sevirologia” e “viração” entre os pobres e periféricos da cidade.
O reforço da “sevirologia” e da “viração” por políticas públicas serve para que a sobrevivência na adversidade, na dificuldade e no “ilegalismo” seja banalizada e naturalizada como precariedade permanente.
Porém, essas políticas públicas devem ter o cuidado para não matar, neutralizar e burocratizar as potências e vitalidades existentes na “sevirologia” e na “viração”. Esse entendimento é imprescindível para orientar a elaboração e implementação de políticas públicas que garantam de fato o direito a uma vida digna na vida urbana periférica.
Texto de Anderson Kazuo Nakano* e Thiago Andrade Gonçalves**
* Anderson Kazuo Nakano é arquiteto urbanista e demógrafo, professor doutor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Observatório de Lutas Urbanas (OLU).
** Thiago Andrade Gonçalves é graduando em geografia no Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo e membro do Observatório de Lutas Urbanas (OLU).
*** Este é um artigo de opinião e não necessariamente expressa a linha editorial do Brasil de Fato.
Edição: Matheus Alves de Almeida