Há exatos dez anos, entre os dias 12 e 20 de maio de 2006, pelo menos 564 pessoas foram mortas no estado de São Paulo, segundo levantamento da Universidade de Harvard, a maioria em situações que indicam a participação de policiais. A maior parte dos casos, apontam pesquisadores, fazia parte de uma ação de vingança dos agentes de segurança do Estado contra os chamados ataques da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que se concentraram nos dois primeiros dias do período.
A chacina daquele ano ficou conhecida como Crimes de Maio, a maior do século 21 e talvez a maior da história do país - para efeito de comparação, em toda a última ditadura civil-militar, que durou 21 anos, 434 pessoas foram mortas pelo Estado. Uma década depois do massacre de 2006, apenas um agente público foi responsabilizado pelas mortes. Condenado, ele responde a recurso em liberdade e continua atuando como policial militar.
O gritante número de assassinatos e o desinteresse da Justiça em punir os responsáveis deu origem ao movimento Mães de Maio, formado principalmente por familiares das vítimas do massacre.
Mais do que justiça para os próprios filhos, as Mães construíram, ao longo dos anos de atuação e luta, um movimento social de combate aos crimes do Estado ocorridos durante o período democrático, e se transformaram em referência para outras famílias preocupadas com a marcha fúnebre que vitima milhares de pessoas todos os anos no Brasil.

“Quando conheci as Mães, eu ganhei força”, afirma Irone Santiago. Ex-moradora da favela da Maré, ela conheceu a organização no ano passado, depois de ver sua vida destruída quando o filho, Vitor Santiago, foi baleado, aos 29 anos, por militares do Exército na Unidade de Polícia Pacificadora. O jovem perdeu uma perna e parte dos pulmões, ficou paraplégico e passou a necessitar de cuidados constantes da mãe. Sem referência sobre o que fazer, Irone se sentia perdida até ter contato com as Mães de Maio.
Hoje, Irone faz parte da luta e cita mulheres baianas, cariocas, paulistas e tantas outras de quem nunca tinha ouvido falar antes da tragédia pessoal. Cita a dor, as lutas, as pequenas conquistas e as inúmeras derrotas que essas mulheres já enfrentaram, e a força que elas impulsionam. “São muitas mães, muitas mesmo. Através dessas pessoas eu me inspiro muito e tenho forças para lutar”, diz.
“O Mães de Maio é um movimento de mulheres donas de casas, mas que aprendeu, ao longo desses anos, a trabalhar com esse sistema. E quando as donas de casa saem de suas casas e começam a militar perante o Brasil, acabam ultrapassando as fronteiras.O nosso grito é um grito que tem que ecoar porque nosso país é um país omisso. É inaceitável que em maio de 2006, no espaço de uma semana, se matem mais de 600 pessoas”, explica Débora Maria Silva, fundadora do movimento.

O filho de Débora foi uma das vítimas dos Crimes de Maio. Edson Rogério da Silva foi assassinado aos 29 anos em 15 de maio de 2006. Ele era gari e tinha um filho. Edson havia ido abastecer a moto em um posto de gasolina quando foi abordado por um policial. Minutos depois de ser liberado, foi atingido por um tiro no coração e um em cada pulmão. Em 2012, o corpo do rapaz foi exumado graças a luta de sua mãe e um projétil foi encontrado gravado em sua coluna cervical. Até hoje, entretando, o resultado balítistico que poderia apontar se a arma pertencia a policiais, como suspeita a mãe, não foi concluído.
Para o defensor público Antonio Maffezoli, que atua em seis casos de homicídio envolvendo oito vítimas daquele período na Baixada Santista, apesar de não ter conseguido resultados pessoais, a luta das Mães tem garantido avanços importantes na denúncia contra os crimes cometidos pelo Estado. A mais evidente delas é a própria mudança de narrativa sobre aquele mês. Inicialmente conhecido como “ataques do PCC”, graças à história contada e recontada pelas Mães, o episódio hoje já é tratado como Crimes de Maio, de forma mais ampla, incluindo tanto o período em que a facção criminosa coordenou, de dentro dos presídios do estado, uma série de ataques contra agentes públicos de segurança quanto o período posterior, quando policiais teriam começaram o revide em mais de dez cidades do estado.
A onda de vingança, como registram pesquisas feitas nos anos seguintes, teria começado logo após o governo de São Paulo e o PCC selarem um acordo para pôr fim aos ataques, no dia 15 daquele mês. Na época, Claudio Lembo, filiado ao antigo PFL, era o governador do estado, posto que assumiu depois que Geraldo Alckmin (PSDB) renunciou ao cargo para disputar a presidência da República. Nesse dia, uma ex-delegada da polícia civil que atuava como advogada do PCC visitou Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, para que ele ordenasse o fim dos ataques.
“Essa luta toda que tem a esfera jurídica, onde eu atuo, e a política, onde estão as Mães de Maio, tem várias conquistas que são muito importantes e pedagógicas. A referência que elas se tornaram dentro da luta pelos direitos humanos, os avanços em relação ao fim dos autos de resistência, é tudo muito importante. Nas duas esferas há sempre a tentativa de mudança de estruturas. Na denúncia que nós encaminhamos à Comissão Interamericana, a gente pede a condenação do Estado brasileiro, indenização, pedido de desculpas formais. Mas a gente pede mudanças estruturais. Esse tipo de ação tem muita jurisprudência. A corte já fez isso de dizer 'olha, vocês precisam mudar a sua polícia, precisam criar mecanismos de controle externo efetivos' em vários casos”, explica Maffezoli.
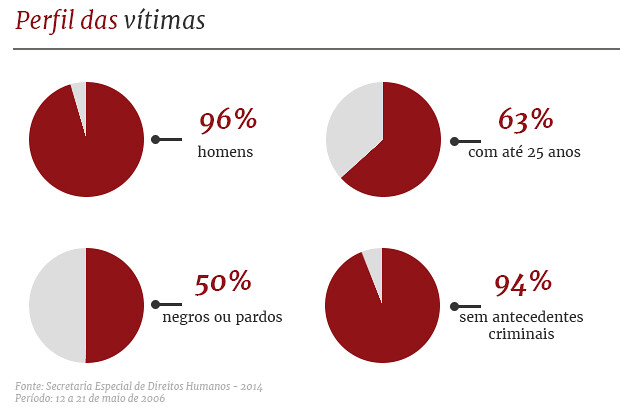
No começo desse ano, uma resolução do Conselho Superior de Polícia, órgão da Polícia Federal, e do Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil aboliu as categorias "Resistência Seguida de Morte" ou "Auto de Resistência" no registro de homicídios cometidos por policiais. A mudança era uma das bandeiras do movimento. Em 2006, 124 das mortes foram registradas dessa forma. Nesse tipo de registro, o policial responsável pela morte era considerado vítima e o morto, culpado, sem necessidade de qualquer investigação.
Além da dor maternal
Um dos casos mais emblemáticos dos chamados Crimes de Maio foi arquivado depois de um mês, ainda em 2006. Ana Paula Santos estava grávida de nove meses com parto marcado para o dia seguinte. Ao lado do namorado, saiu para comprar algo para comer quando o casal foi abordado por um grupo de encapuzados. Ana Paula tentou proteger o companheiro, imaginando que a gravidez poderia minimizar a agressão, mas acabou sendo morta com cinco tiros, alguns na barriga, que provocaram também a morte do bebê.
“No dia que eu tinha que tirar minha filha do hospital e levar pra casa com minha neta eu deixei os três no necrotério. E até hoje ninguém foi preso, ninguém tomou atitude”, conta Vera Lucia dos Santos, mãe de Ana Paula e outra fundadora do Mães de Maio. Em 2009, depois de denunciar que os autores da morte de seus familiares eram policiais, Vera foi acusada de ser traficante. Ficou presa por três anos e três meses. Ao ser liberada, voltou para a luta.

Apesar das dificuldades, a luta dá resultados, ainda que sutis diante da atrocidade dos massacres que não param de ocorrer. Débora usa como exemplo o andamento das investigações das chacinas ocorridas em 2010, na Baixada Santista. Apesar das críticas de as apurações sofrem com o mesmo corporativismo entre as polícias, a mesma conivência do Ministério Público e a indiferença da população, os crimes não foram arquivados até o momento. O fato de ainda estarem abertos demonstra a crescente força desse movimento de familiares.
“Nós, mães, perdemos um filho, e os outros filhos perderam a mãe. Em dez anos, não vimos nossos netos crescer, não demos atenção e carinho para os outros filhos, que não entendem. Já cansamos de ouvir por bocas de companheiros, ou de estranhos, que 'a gente não tem mais nada, só cimento, que já acabou'. Não acabou. Porque a luta que nós temos hoje não é pela Ana Paula, pelo meu genro, pela Bianca. Não é a Débora pelo filho dela. É pelos filhos de outras companheiras que possam vir”, afirma Vera.
“É necessário um outro olhar do judiciário, porque a polícia acata a ordem do Estado. A Justiça mata dez vezes em um pedido de arquivamento”, afirma Débora.
“Dos Crimes de Maio, nada de inquérito. Tem uma 'tortura' dentro do GAECO [Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Minsitério Público] de levar essas mães para enxugar gelo. A cada promotor [novo] que vai entrando, eles chamam de novo as mães. Quando a pedrinha de gelo derrete, eles chamam de novo. Eles tentam congelar outra pedrinha que são as lágrimas das mães e continuam enxugando gelo e fazendo outra pilhinha. Então, os Crimes de Maio, e os que continuam ocorrendo, só vão ter justiça quando a gente fizer a reforma do judiciário. Não tem outro caminho. Ou o judiciário tem um outro olhar ou não tem como suportar”, reitera.
Apesar de ser forte referência, não ter deixado maio de 2006 ser esquecido e dado visibilidade a outros crimes do estado, principalmente contra a população pobre e negra, a luta das Mães ainda é solitária. O movimento é composto também por pais e militantes que nunca tiveram a família ceifada, mas eles são minoria. Apesar de várias das bandeiras do movimento serem compartilhados por outros movimentos populares, elas sentem falta de companhia na hora de chorar e lutar pelos mortos. “A polícia do governo [Geraldo] Alckmin é uma verdadeira fábrica de cadáver. A polícia do Brasil é uma verdadeira fábrica de cadáver. Mas não basta só as Mães. No dia que todos tomarem as ruas e falarem 'basta de genocídio' antes que caia no meu cadáver, aí nós vamos ter a verdadeira revolução”, acredita Débora, que lamenta que as balas contra o corpo de jovens, especialmente os negros e periféricos, comovam menos que as balas de borracha no asfalto. “Militante não pode ser de quadradinho, de uma só bandeira”, enfatiza.
Arte: Wilcker Morais
Edição: ---

